1) Até o séc.
16 existia em português o adjetivo “dino”, escrito assim e pronunciado assim.
Em dado momento, porém, filólogos e outros humanistas, querendo reaproximar o
português do latim, passaram a escrever “digno”, com um “g” que tinha
desaparecido ao longo do tempo. Com isso, o que era mero enfeite gráfico se
transformou em pronúncia real, de modo que até hoje pronunciamos “digno” (ou,
melhor “díguinu”), com um “g” bem audível. E é a única forma admitida pela
norma. A grafia, portanto, gerou um fato fonético.
2) Por alguma
razão misteriosa, talvez para se diferenciar do sempre temido espanhol, os
grafólogos e gramáticos portugueses impuseram a letra “m” no final das
palavras, em lugar do “n”. Sabemos que esse “m” final não se pronuncia,
servindo apenas como elemento de um dígrafo que representa, de fato, uma vogal
nasal. Assim, o numeral “um” se pronuncia [ũ]. Na forma do feminino, porém,
“uma”, cuja pronúncia deveria ser [ũa] (como é em galego e em muitas variedades
nordestinas), o “m” é pronunciado, por mera servidão à forma escrita. De novo,
a grafia gerou um fato fonético. (Vejam, porém, o comentário de Xoán Carlos
Lagares abaixo a respeito deste fenômeno.)
3) Em inglês,
até por volta do séc. 16, existia a palavra “luve”. Para que não se
confundissem, na escrita manual, o “u” e o “v”, passou-se a escrever “love”. O
que era um simples artifício gráfico gerou, mais uma vez, uma palavra nova com
nova fonação.
4) Até dada
época da história do português existiam construções deste tipo: “El-Rei tem
conquistadas muitas terras”. O sentido da frase era: “O rei possui muitas
terras que foram conquistadas por ele”. Aos poucos, no entanto, os falantes
foram interpretando a locução “ter + particípio passado” como um novo tempo
verbal, uma forma de passado, porque para que o rei possua as terras elas
tiveram de ser conquistadas no passado. Essa reanálise acabou sendo absorvida
pela tradição normativa, que reconheceu o surgimento de um novo tempo verbal. A
pressão do uso sobre o sistema provocou uma reformulação da norma, e a forma
sem concordância com o particípio (concordância que até hoje existe em francês
e italiano) é a única aceita e a única, de fato, usada.
5) No português
europeu, até recentemente, existiam verdadeiras letras “mudas”, que não eram
pronunciadas, mas serviam como indicadoras de que a vogal precedente era
aberta. Assim, por exemplo, “adoptar” se pronunciava “adòtar”. Com o Acordo
Ortográfico 90, esse “p” (e outras consoantes mudas) foi eliminado, se passou a
escrever “adotar” (como no Brasil). Algumas pessoas, no entanto, já começam a
pronunciar “adutar” (e não mais “adòtar”) porque, no português europeu, na
grande maioria dos casos, o “o” átono se pronuncia “u”. Temos aqui uma
intervenção consciente, a reformulação ortográfica, que está levando a uma
provável alteração nas regras fonéticas (e até fonológicas) da língua.
6) Tal como no
primeiro exemplo, os humanistas portugueses do Renascimento, querendo
reaproximar o latim do português, impuseram as formas “flauta”, “planta”,
“floco” onde eram mais comuns “frauta”, “pranta” e “froco” (assim aparecem n’Os
Lusíadas, por exemplo). Hoje, as formas “frauta”, “pranta” e “froco” são
consideradas “erradas”, fala de gente sem instrução, embora ainda aparecessem
em textos escritos formais no séc. 19. De novo, uma intervenção consciente
gerou novos fatos fonéticos.
7) Em diversas
culturas linguísticas, os nomes das entidades sobrenaturais (boas ou más) são
evitados, seja por dogma religioso (“não usarás o nome de Deus em vão”) ou para
impedir malefícios. Assim, por exemplo, no Brasil, temos os eufemismos
“diacho”, “desgrama” e “azeite”, para não dizer “diabo”, “desgraça” e “azar”.
Em inglês, temos “Gosh” e “Jeez” para “God” e “Jesus”, além de outros. Em francês,
a exclamação “parbleu!” em lugar de “par Dieu!”. São os eufemismos e os tabus
linguísticos, muito estudados pelos antropólogos. Em inúmeras culturas
tradicionais ameríndias, africanas, asiáticos e oceânicas há palavras que só
podem ser ditas uma vez por ano, ou só por homens (tendo as mulheres que
substituí-las por outras) etc. São usos coletivos, mas exigem uma consciência
clara das proibições.
Os exemplos
acima mostram intervenções conscientes (aquilo que a linguista inglesa Deborah
Cameron chama de “higiene verbal”) na língua. No caso das prescrições vindas do
alto (academias, gramáticos etc.), é a posição hierárquica superior que levou
ao sucesso dessas intervenções. Nos eufemismos, é a força da religião. Se as
soluções atualmente propostas para uma linguagem inclusiva, não-sexista, terão
sucesso ou não, tudo depende das dinâmicas sociais. Mulheres, pessoas negras,
LGBTQI+, indígenas etc. estivemos sempre em posição subalterna, debaixo do
tacão da dominância masculina, branca e (supostamente) heterossexual. Por isso,
para muita gente, as propostas de linguagem inclusiva são “aberrações”,
“irracionalidades”, “inutilidades” etc. Mas quando um professor de português
branco famoso na mídia diz que o certo é “alugam-se salas” e não “aluga-se
salas”, todo mundo se prostra e corre para obedecer. Tudo depende, enfim, de
quem diz o quê e a quem, do lugar que a pessoa que fala ocupa na ordem do
discurso (um conceito que acho mais interessante do que o enxovalhado “lugar de
fala”). Se essa pessoa é mulher, negra, indígena, pobre, LBGTQI+ etc., seu
lugar nessa ordem não lhe permite lançar propostas que sejam de imediato
aceitas por todo mundo. Afinal, não basta ter o que dizer: é preciso poder
dizer.
Texto de Marcos Bagno
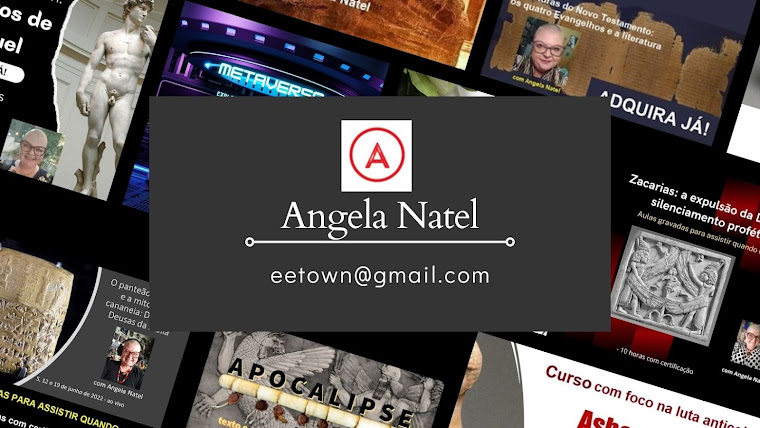

Nenhum comentário:
Postar um comentário