A malária e o sol escaldante pontuaram a traumática experiência do jovem antropólogo que, entre os aweti, no Xingu, em 1971, fazia sua pesquisa de mestrado. Deitada “em um lago de sangue”, a índia foi declarada morta pelo pajé, enquanto seu bebê recém-nascido chorava perto do fogo. A criança, esclareceu um índio, seria enterrada viva junto com a mãe, enquanto as labaredas terminariam de consumir a oca e os pertences da falecida. Diante disso, consumido pela febre, o antropólogo agarrou o bebê e, auxiliado por sua mulher grávida, uma estudante universitária de Antropologia, protegeu-o por dois dias em sua rede, à espera da canoa que os levaria ao posto indígena.
Deve-se violar uma prática tradicional em nome do princípio da vida? Essa pergunta, a mesma que atormenta até hoje o antropólogo George Zarur, um amigo dileto, ressurge sob outra forma na polêmica sobre o Projeto de Lei 1.057, destinado a coibir o infanticídio entre os índios. À primeira vista, o dilema envolve os conceitos de cultura e direitos humanos. No fundo, trata-se de um debate sobre a fetichização da cultura.
Zarur narrou a história do bebê no seu livro Os pescadores do golfo, de 1984. Numa canoa remada por índios remunerados por contas de colares, ao longo de 12 horas, o casal de antropólogos abrigou a criança “da chuva, do sol e dos ramos da beira dos canais que unem a aldeia Aweti ao Posto Leonardo Villas-Boas”. Finalmente, Marina Villas-Boas recolheu o indiozinho desidratado e o encaminhou para adoção. O gesto impulsivo de Zarur não deveria ser creditado automaticamente à sua própria “cultura”. O PL 1.057 ganhou a alcunha de Lei Muwaji para celebrar a índia amazonense Muwaji Suruwahá, que enfrentou sua tribo a fim de salvar a vida da filha nascida com paralisia cerebral.
A invocação banalizada da “cultura” desfigura o debate. O deputado Edmilson Rodrigues (PSol-PA) alega, tipicamente, que o PL 1.057 “acaba negando o que está previsto na Constituição: a garantia dos povos indígenas à sua identidade cultural”. Batem na mesma tecla a Funai e o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), da Igreja Católica. O infanticídio indígena vitima gêmeos e crianças cujas mães são solteiras ou morreram no parto, assim como as que nascem com deficiências. Na origem da norma encontram-se as estratégias de sobrevivência de grupos humanos acossados permanentemente pela escassez. Nesse contexto, o leite materno e os cuidados com os recém-nascidos são bens limitados e, portanto, valiosos. Há lógica na prática do infanticídio, mas isso não é motivo para perenizá-la.
A unidade indissolúvel entre mãe e filho, na vida e na morte, justifica-se sob a premissa do modo de vida tradicional. Mas o cenário altera-se por completo na hora em que o grupo indígena passa a interagir com a sociedade moderna circundante, que assume a obrigação de prover-lhe serviços essenciais de saúde, inclusive leite para os recém-nascidos, vacinação e tratamentos médicos. Aí, “identidade cultural” converte-se apenas no toque de reunião dos porta-vozes do relativismo cultural.
Da perspectiva dos relativistas, inexistem normas universais legítimas. Indiferentes aos direitos humanos, eles curvam-se à norma prevalente em cada sociedade, enfeitando-a com as plumas e os paetês da “identidade cultural”. O rótulo serve para justificar o autoritarismo estatal na China (“confucionismo”) ou na Malásia (“valores asiáticos”), as discriminações contra as mulheres na Arábia Saudita e no Afeganistão (“islamismo”), a perseguição oficial aos gays em Uganda (“valores africanos”) e a mutilação genital feminina na Somália (“tradição étnica”). O pressuposto implícito do relativismo serviria, ainda, para conferir legitimidade à xenofobia anti-imigrantes na Europa — mas, curiosamente, os intelectuais relativistas jamais recorrem ao álibi da “cultura” quando se trata das modernas sociedades ocidentais.
O PL 1.057 foi aprovado na Câmara, em agosto, e tramita no Senado. Chico Alencar (PSol-RJ), que votou contra, argumenta ser o infanticídio uma “prática cada vez mais rara em cada vez mais ínfimos grupos tribais”. Ele não sabe o que diz, pois faltam estatísticas confiáveis sobre o tema, em função de notória subnotificação, um fenômeno que reflete a postura dominante no governo e na Funai de fechar os olhos às “práticas culturais tradicionais” em colisão com as leis brasileiras. De fato, há fortes indícios de que o infanticídio ainda faz várias centenas de vítimas, todos os anos, entre os índios.
A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) também votou contra, fazendo eco a antropólogos como Rita Santos, que a classificam como instrumento de criminalização dos índios. Mas a Lei Muwaji diz que o dever das autoridades é demover o grupo indígena, “sempre por meio do diálogo”, da persistência na prática do infanticídio, protegendo a criança pela “retirada provisória” do convívio do grupo antes de seu encaminhamento a programas de adoção. Além disso, obviamente, ela não cancela o princípio jurídico da inimputabilidade do indígena, que impede a criminalização de atos derivados da observância de normas entranhadas na tradição do grupo. Na verdade, ao estabelecer a obrigação de comunicar o risco da eliminação de crianças, o PL 1.057 não criminaliza os índios, mas os agentes públicos que, pela omissão deliberada, acobertam violações ultrajantes dos direitos humanos.
“Há uma questão fundamentalista e religiosa por trás dessa lei”, vocifera Saulo Feitosa, do Cimi, apontando um dedo acusador na direção das lideranças evangélicas que defendem a Lei Muwaji. Eu, que não tenho religião, enxergo nessa crítica preconceituosa um outro tipo de fundamentalismo: a veneração da “cultura” como um totem imemorial. E, como tantos outros, religiosos ou não, prefiro ver na canoa que salvou o indiozinho do Xingu uma metáfora para o diálogo entre culturas.
fonte: http://horaciocb.blogspot.com.br/2015/10/na-canoa-do-antropologo-demetrio-magnoli.html
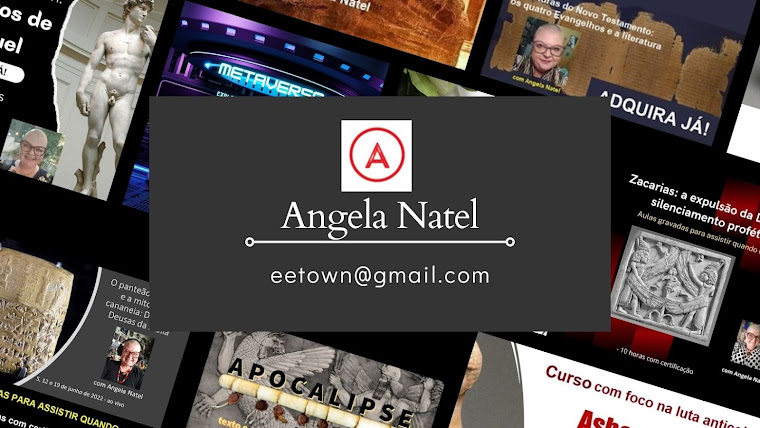
Nenhum comentário:
Postar um comentário