Em Çatal Huyuk, na
Turquia, a estatueta de uma mulher sentada num trono e ladeada por duas
panteras, em cujas cabeças ela coloca as mãos, sugere ao mesmo tempo a imagem
da mãe e da senhora da natureza. Suas formas generosas — quadris largos e seios
grandes— reforçam ainda mais essa idéia. O nome da figura feminina é Pótnia, a
deusa de Çatal Huyuk, a mais antiga cidade que se conhece do período Neolítico,
cerca de 10 mil anos atrás. De Pótnia nasceram outras divindades femininas
também adoradas pelos homens pré- históricos. Sua estatueta, esculpida por
volta de 6500 a.C., foi uma das muitas encontradas na Europa e no Oriente
Médio, algumas mais antigas, do Paleolítico Superior (de 50 mil a 10 mil anos
atrás).
Essas descobertas levaram historiadores e arqueólogos a sugerir que, bem antes
de venerar deuses masculinos, os antepassados do homem teriam adorado as
deusas, cujo reinado chegou até a Idade do Bronze, há cerca de 5 mil anos. Não
se sabe a rigor o exato significado daquelas estatuetas, até porque pouco ou
quase nada se conhece dos costumes dos homens pré-históricos. Mas não resta
dúvida de que por um bom tempo as deusas reinaram sozinhas, deixando os poderes
masculinos à sombra. Em seu livro 'Um é o outro', a filósofa e professora
francesa Elisabeth Badinter tenta explicar a supremacia feminina a partir do
que se supõe teriam sido as relações entre homens e mulheres naquelas épocas
distantes.
A ideia é que o homem do Neolítico—ao contrário dos seus antecessores do
Paleolítico, que eram caçadores, e dos seus descendentes da Idade do Bronze,
guerreiros—dedicava-se à criação de rebanhos e à agricultura. Ou seja, já não
era necessário arriscar a vida para sobreviver. Nesses tempos relativamente
pacíficos, em que a força bruta não contava tanto como fator de prestígio e as
diferenças sociais entre os sexos se estreitavam, é bem possível que deusas—e
não deuses—tivessem encarnado as principais virtudes da cultura neolítica.
Entre as centenas de estatuetas encontradas, algumas têm em comum os seios
fartos e os quadris volumosos como Pótnia. Talvez a mais famosa seja a Vênus de
Willendorf, encontrada às margens do rio Danúbio, na Europa Central. Nela, os
seios, as nádegas e o ventre formam uma massa compacta, de onde emergem a
cabeça e as pernas — na verdade, pequenos tocos. Igualmente reveladora é a
Vênus de Lespugne, descoberta na França: embora mais estilizada, guarda as
mesmas características de sua irmã de Willendorf.
Mas, das esculturas pré- históricas encontradas até hoje, são raras as que
apresentam os traços femininos tão exagerados — o que dá margem a um debate
sobre o que significava afinal a figura feminina (devidamente divinizada) nos
primórdios das sociedades humanas. Os historiadores tendem a achar que os
primeiros homens a viver em grupos organizados davam mais importância à
sexualidade feminina do que à fertilidade, embora não seja nada fácil separar
uma coisa da outra. No entanto. a imagem à qual acabaram associadas foi a da
maternidade. Há quem não concorde. “Traduzir o culto dos ancestrais às deusas
como simples exaltação à fertilidade é simplificar demais”, comenta a
historiadora e antropóloga Norma Telles, da PUC de São Paulo, que estuda
mitologia praticamente desde criança. “Na realidade, a deusa não é aquela que
só gera. Ela é também guerreira, doadora das artes da civilização, criadora do
céu, do tecido e da cerâmica, entre muitas outras coisas.”
De fato, em muitos mitos, a deusa aparece como quem dá o grão aos homens, e não
apenas no sentido literal de nutrição. Assim, por exemplo, Deméter, venerada
pelos gregos como a deusa da colheita, ajudava a cultivar a terra — arar,
semear, colher e transformar os grãos em farinha e depois em pão. Deméter
ensinava ainda os homens a atrelar as animais e a se organizar. Os gregos
explicaram a origem do mundo com outro mito feminino: o da deusa Gaia. Doadora
da sabedoria aos homens, ela limitou o Caos—o espaço infinito—e criou um ser
igual a ela própria: Urano, o céu estrelado.
Pouco depois, Eros, símbolo do amor universal, fez com que Gaia e Urano se
unissem. Desse casamento nasceram muitos filhos e, assim, a Terra foi povoada.
A crença de que o Universo foi criado por uma divindade feminina está presente
em quase toda parte.
Ísis, a mais antiga deusa do Egito, tinha dado a luz ao Sol. Na Índia, Aditi
era a deusa-mãe de tudo que existe no céu. Na Mesopotâmia, Astarte, uma das
mais cultuadas deusas do Oriente Médio, era a verdadeira soberana do mundo, que
eliminava o velho e gerava o novo. Essa idéia aparece com clareza nas efígies
datadas de 2 300 a.C., que mostram Astarte sentada sobre um cadáver. Também
para os chineses foi uma deusa—Nu Gua — quem criou a humanidade. Seu culto
apareceu durante o período da dinastia Han (202 a.C.-220 d.C.). Representada
com cabeça de mulher e corpo de serpente, a venerável Nu Gua encarnava a ordem
e a tranqüilidade.
Os chineses dizem que, cavando barro do chão, ela moldou uma figura que, para
sua surpresa, ganhou vida e movimento próprio. Entusiasmada, a deusa continuou
a moldar figuras, mas a natureza mortal de suas criaturas a obrigava a repetir
eternamente o trabalho. Por isso, Nu Gua decidiu que os seres deviam se
acasalar para se perpetuarem—daí também ela ser considerada pelos antigos
chineses a deusa do casamento. Do outro lado do mundo, na América pré –
colombiana, os astecas tinham em Tlauteutli sua deusa da criação. Para eles, o
Universo fora feito de seu corpo. Os maias tinham igualmente sua deusa-mãe. Era
Ix Chel. De sua união com o deus Itzamná nasceram os outros deuses e os homens.
Com o passar do tempo, deuses e homens passaram a dividir com as deusas o
espaço no Panteão, o lugar reservado às divindades. Para Elisabeth Badinter,
isso acontece quando a noção de casal vai deitando raízes nas sociedades. Pouco
a pouco, da Europa Ocidental ao Oriente, “reconhece-se que é preciso ser dois
para procriar e produzir”, escreve ela. Mas o culto à deusa – mãe ainda não é
substituído pelo do deus – pai. O casal divino passa a ser venerado em
conjunto. As deusas só serão destronadas com o advento das religiões
monoteístas, que admitem um só deus, masculino. Com a difusão do cristianismo,
as antigas deusas são banidas do imaginário popular.
No Ocidente, algumas acabaram associadas à Virgem Maria, mãe do Deus dos
cristãos, outras se transformaram em santas. Mas outras ou foram excluídas da
história ou acusadas pelos padres de demônios e prostitutas. As deusas das
culturas indo-européias tinham em comum o poder de criar, preservar e
destruir—davam a vida e recebiam de volta o que se desfazia.
Esse aspecto destrutivo das divindades femininas foi o mais atacado pelos
inimigos do politeísmo. A suméria Astarte, por exemplo, não escaparia à ira nem
dos profetas bíblicos nem dos primeiros cristãos: para uns e outros, ela era a
encarnação do diabo.
No império babilônico, Astarte foi venerada sob o nome de Ishtar, que quer
dizer estrela. Nos escritos babilônicos, ela é a luz do mundo, a que abre o
ventre, faz justiça, dá a força e perdoa. A Bíblia, porém, a descreveria como
uma acabada prostituta. A importância dada ao lado violento, destrutivo, talvez
explique por que a deusa hindu Kali Ma aparece no filme de Steven Spielberg, O
templo da perdição, como a encarnação da violência. Ela é a sanguinária figura
em nome da qual se matam e torturam adultos e se escravizam crianças.
No entanto, para os hindus, mais especialmente para os tantras — adeptos de uma
derivação do hinduísmo —, Kali é a deusa da transformação e nesse sentido mais
filosófico é que ela é destruidora, da mesma forma como a passagem do tempo
destrói. Representada como uma mulher negra com quatro braços e uma serpente na
cintura, pode aparecer também com um colar de crânios no colo e uma cabeça em
cada mão.
Em seus templos, espalhados por toda a Índia, realizavam-se sacrifícios de
búfalos e cabras. “Para os orientais, Kali é a desintegração contida na vida,
visão essa que nós ocidentais não temos”, interpreta a antropóloga Norma
Telles. Se Kali foi vista como deusa sanguinária, outras divindades compensavam
tanta violência. Sarasvati, a deusa dos rios, era para os hindus a inventora de
todas as artes da civilização, como o calendário, a Matemática, o alfabeto
original e até os Vedas, o texto sagrado do hinduísmo.
Também na América pré-colombiana, sobretudo entre os astecas, o culto às deusas
e deuses incluía muitas vezes sacrifícios humanos. A deusa Tlauteutli é um bom
exemplo. Um dia, os deuses descobriram que ela ficaria estéril, a menos que
fosse alimentada de corações humanos. Na verdade, os astecas tinham uma visão
apocalíptica do mundo: se não alimentassem a deusa, a Terra se acabaria.
Mas, à medida que começava a crescer o culto à deusa da maternidade, Tonantzin,
diminuía o interesse dos astecas pelos deuses aos quais se faziam sacrifícios
sangrentos. Mais tarde, com a chegada dos conquistadores espanhóis, Tonantzin
foi identificada com a Virgem Maria. Isso acabaria acontecendo também com a
deusa Ísis. Cultuada no Egito e no mundo greco – romano, ela representava a
energia transformadora. Casada com o deus Osíris, morto pelo próprio irmão,
Ísis não sossegou enquanto não lhe restituiu a vida. A lenda conta que as
enchentes do Nilo eram causadas pelas lágrimas da deusa que pranteava a morte
do amado. Por isso, as festas em sua homenagem coincidiam sempre com a época
das cheias. É evidente que, ao festejá-la, os egípcios comemoravam a generosa
fertilidade do rio Nilo. Nos primeiros séculos cristãos, Ísis passou a ser
identificada com Maria.
Já a deusa Brighid, cultuada pelos celtas, ancestrais dos irlandeses, foi
transformada pelo cristianismo em Santa Brigida. A veneração daquele povo por
Brighid era tanta que ela era chamada simplesmente “a deusa”. Dona das palavras
e da poesia, era também a padroeira da cura, do artesanato e do conhecimento.
As festas em sua homenagem se davam no dia 1º de fevereiro, antecipando a
chegada da primavera. Na história cristã, a santa nasceu no pôr-do-sol, nem
dentro nem fora de uma casa, e foi alimentada por uma vaca branca com manchas
vermelhas. Na tradição irlandesa, a vaca era considerada sobrenatural.
Antes mesmo da chegada das religiões monoteístas, os mitos dizem que o convívio
entre deuses e deusas começou a se tornar difícil e a igualdade dos poderes
divinos começava a ficar abalada. Assim, por exemplo, Amaterazu, a deusa
japonesa do Sol, de quem descendiam os imperadores, não se dava muito bem com o
deus da tempestade. Conta a lenda que certo dia ele foi visitar os domínios da
deusa e acabou por destruir seus campos de arroz. Furiosa, Amaterazu resolveu
vingar-se trancando-se numa caverna — o que deixou o mundo às escuras. Depois
de um tempo, como ela não saísse da caverna, uma multidão de deuses e deuses
menores decidiu armar uma estratégia para convencê-la a mudar de idéia. Assim,
colocaram diante da caverna um espelho que refletia a imagem do deus da
tempestade, como se ele estivesse enforcado numa árvore, e começaram a dançar.
Atraída pela música, a deusa decidiu sair para ver o que acontecia. Ao deparar
com a imagem no espelho ficou feliz e voltou ao mundo. Com isso, tudo se
normalizou e os dias continuaram a suceder às noites. Outro exemplo dos
conflitos entre as divindades é o caso da deusa grega Deméter e seu marido
Hades, o deus do mundo dos mortos. Eles começaram a brigar pela guarda da filha
Perséfone e a questão só foi resolvida com a mediação de Zeus, o deus supremo
do Olimpo. Salomonicamente, ele determinou que a menina ficasse com cada um
seis meses por ano. Das deusas veneradas no mundo antigo, não houve tantas nem
tão famosas como as da mitologia greco – romana. Afrodite (Vênus, em Roma)
talvez fosse a mais popular de todas, por encarnar o amor e as formas belas da
natureza.
Já Ártemis (Diana) era a caçadora solitária, senhora dos bosques e dos animais.
Seus lugares preferidos eram sempre aqueles onde o homem ainda não tinha
chegado. Atena (Minerva) protegia a cidade, as casas e as famílias. O
predomínio que as divindades femininas exerceram ao longo do tempo levou alguns
pesquisadores do século XIX a supor que na pré-história as mulheres detiveram
alguma forma de autoridade política. Não há registros arqueológicos que
confirmem isso — hoje os especialistas não admitem que tenha existido alguma
sociedade cujo controle estivesse com as mulheres. Mas também é certo que nos
tempos pré-históricos, quando era outra a divisão social do trabalho, as
mulheres tinham um papel preponderante na luta pela sobrevivência do grupo. É
impossível saber com exatidão quando e por que deixou de ser assim. De uma
coisa, porém, não se duvida: foram os homens quem primeiro traçaram a mitologia
das deusas.
A primeira mulher de Adão
Segundo uma antiga lenda, a primeira companheira de Adão não foi Eva, mas uma
deusa chamada Lilith—”monstro da noite”, para os antigos hebreus—que brigou com
Deus e por isso foi transformada em demônio. Na verdade, o castigo maior que
Ihe impuseram os sacerdotes foi excluí-la dos relatos bíblicos da criação do
mundo. Lilith, versão hebraica de uma divindade babilônica, sinônimo de “face
escura da Lua”, não se dava bem com Adão. Certo dia, cansada de desavenças,
Lilith abandonou o marido e foi para o mar Vermelho, onde passou a viver entre
demônios, com quem teve vários filhos.
Inconformado, Adão foi pedir a interferência de Deus. Este determinou então que
Lilith voltasse imediatamente para casa. Mas ela recusou-se e foi condenada a
devorar todos os seus filhos. Não bastasse, passou a ser considerada um demônio
igual a outras deuses do mundo das trevas. Por tudo isso, no folclore judaico,
cada vez que morria uma criança, dizia-se que Lilith a tinha levado. A lenda de
Lilith perdurou entre os judeus pelo menos até o século VII.
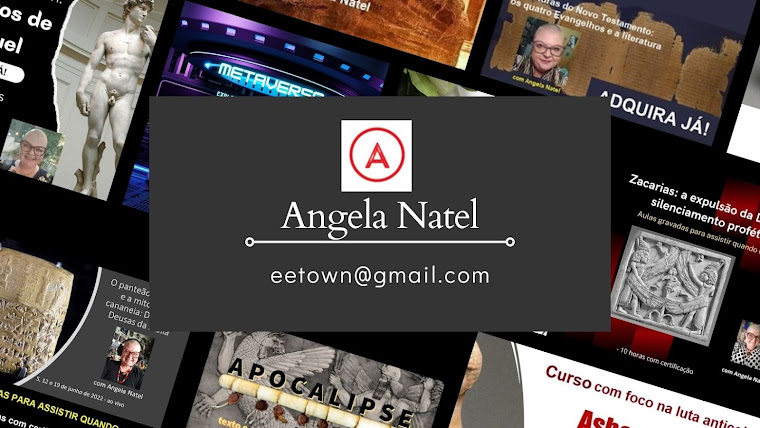

Nenhum comentário:
Postar um comentário