Culpa de aprendizagem
Todos nós conhecemos a história de Adão e Eva, a serpente e a maçã.
Sabemos que, como consequência do não cumprimento de uma proibição explícita, o
primeiro casal humano foi suspenso perpetuamente de sua condição de criaturas
preferidas do Jardim do Éden. Trovejante foi o tapa na cara da humanidade
quando Yahweh, o proprietário do lugar, colocou em frente ao jardim seu
querubim, com um rosto de poucos amigos e armado com uma espada de fogo ardente,
como um aviso, para que fique claro que qualquer tentativa de retorno seria
inútil.
Embora qualquer um que leia Gênesis possa ver que o homem e a
mulher agiram em cumplicidade, é claro que Eva recebe o pior de tudo. A
primeira maldição de Deus Pai cai sobre Eva: suportar o duplo jugo da maternidade
e do casamento. Suportar o cansaço e as dores incalculáveis do parto e sofrer,
acima de tudo, a dominação do homem - seu "mestre" - para quem ela
terá de dirigir toda a sua atenção e todos os seus desejos, assumindo esta
apresentação como um estado imutável e essencial.
Até hoje, Gênesis continua sendo uma das histórias mais influentes
em nossa cultura patriarcal ocidental. Sua influência é incontroversa já que se
considera que a visão de mundo judaico-cristã, juntamente com a visão do mundo
Greco-Latina, é considerada a principal fonte que alimenta nosso modelo
cultural. É uma história poderosa que vem moldando nossos pressupostos
culturais em áreas-chave, tais como a relação entre homens e mulheres, o lugar
do corpo e da sexualidade na vida humana, e o tipo de compreensão que nós, como
humanos, devemos oferecer a nós mesmos, à natureza e o divino. Junto a isso,
Gênesis também pode ser lido como uma grande testemunha do surgimento e das
implicações da culpa em nosso imaginário ocidental.
Gênesis nos ensina que a mulher e a culpa andam de mãos dadas. Por
causa de suas ações indisciplinadas, a primeira mulher e mãe de todos os seres
vivos é a principal culpada por todos os males da humanidade. Ainda mais: em
virtude desta agenda mítica, a culpa de Eva é herdada para todas as gerações de
mulheres, passadas e futuras, assim como a invenção da roda é muitas vezes
entendida como o patrimônio exclusivo da linhagem dos homens. Em outras
palavras, a culpa recai sobre Eva e, através dela, irradia para toda a humanidade
e, de uma forma mais intensa e eficaz, a essa mais da metade da humanidade,
composta de mulheres.
A culpa é uma emoção que, como Jung diria, é experimentada como a
perda de uma totalidade ou integralidade - um estado anterior de totalidade que
julgamos, distorcemos ou traímos - o que resulta em uma não aceitação de quem
somos. Semelhante à nostalgia do Paraíso, a ideia do que nós não somos (ou
porque o fomos e o perdemos, ou porque nunca fomos capazes de nos tornar),
torna-se um anseio, sempre insatisfeito, pela virtude e perfeição. A culpa
surge precisamente da frustração deste anseio por aquilo que realmente somos,
surge do negativo, severo e até impiedoso, que muitas vezes fazemos sobre nós
mesmos. É uma emoção lacerante, bem como estéril, que consiste em beijar o
chicote que nos machuca.
Hoje em dia, é fácil ver que em nossas sociedades é mais provável
que uma mulher se sinta culpada por um milhão de coisas: culpada de sua
aparência física, de sua construção corporal. Culpada por fazê-la se sentir feia
ou gorda. Culpada também pelo uso que ela faz de seu corpo se, em algum momento,
ela se capacita com seu corpo, se, quando chegar a hora, ela se empoderar com
sua sexualidade. Mas, além disso, as mulheres também devem se sentir culpadas
devido ao seu contexto moral, por exemplo, por não cumprirem com o mandato
cultural para serem as zeladoras, as guardiãs da família e do lar; se quebrarem
este mandato, serão culpadas por serem mães negligentes e preguiçosas. A culpa
acompanha a maioria das instâncias da vida de uma mulher, seja sua vida
profissional, suas relações amorosas, sua singeleza ou maternidade, instalando
o fantasma do defeito ou da falta, que deriva de um constante desejo de
perfeição para ser aceita em um ambiente social que as hostiliza e as nega,
material e simbolicamente.
É claro que o fato de que a culpa tende a ser mais profunda entre
as mulheres do que entre os homens não é uma questão de sorte, mas faz parte de
um aprendizado cultural milenar, que remonta milhares de anos atrás. Em particular,
a culpa causada por Eva tem servido historicamente para espremer um desconfortável
colete de forças culturais, que aprisiona mais da metade da humanidade sob
estreitos estereótipos que definem o que uma mulher deve ser, fazer e parecer.
Tanto o aprendizado e a experiência da culpa são enfatizados nos processos de
socialização da mulher, que é simplesmente dizer que as mulheres são educadas
sentimentalmente na aceitação de uma condição defeituosa e, em virtude disso necessariamente
subordinadas. Este aprendizado só fortaleceu a tradicional construção sólida do
gênero feminino no Ocidente, o que favoreceu a internalização de certos traços
de caráter - como a predominância do instinto sobre a razão, frivolidade,
fraqueza e falta de controle, o que traria consigo a necessidade de submissão e
dependência, que devem ser entendidas como traços naturalmente herdados pelas
filhas de Eva.
É necessário esclarecer que quando falamos de gênero estamos nos
referindo aos significados culturais que atribuímos ao fato de nascer sexuado
desta ou daquela maneira. O gênero não é algo que trazemos entre nossas pernas,
mas faz parte de um
processo de
aprendizagem sociocultural, que inclui a internalização de um repertório de
discursos, normas e valores que moldam nossos comportamentos, definindo ao
mesmo tempo os papéis desiguais de homens e mulheres em nossas sociedades.
Assim, por exemplo, nós assumimos e afirmamos que homens e mulheres são
"programados" para desenvolver diferentes afetos, para desenvolver
diversas habilidades (intelectual, espiritual e físico), desempenham papéis
diferentes e ocupam posições diferentes no teatro da vida (por exemplo, mãe
feminina no espaço doméstico; provedor masculino no espaço público). Ao mesmo
tempo, nós assumimos e afirmamos que nem todos os papéis têm o mesmo valor e
importância, que existem papéis de liderança e de apoio, e que, naturalmente,
existem também outras pessoas por aí que não deveriam nem se dar ao trabalho de
subir ao palco. É claro, este aprendizado cultural do gênero nos predispõe a
assumir que somente homens e mulheres existiriam - em virtude da dualidade
sexual genital - o que invalida, desde o início, qualquer possibilidade de
aceitar identidades que transitam ou são entre ambas as polaridades consideradas
como "normais".
Simplificando, o modelo cultural patriarcal nos ensina desde a
juventude que há o melhor e o pior. Ensina-nos a segregar radicalmente e
hierarquizar as esferas do masculino e do feminino, com a sinistra perversão de
nos mostrar a diferença - toda diferença - como um claro sinal de superioridade
e inferioridade.
Precisamente, ao longo da história do patriarcado ocidental, a
culpa tem sido um instrumento útil para modelar, reproduzir e justificar as
hierarquias de gênero, para legitimar o controle sobre o comportamento da
mulher, para reforçar a superioridade do masculino e reduzir o feminino a um
papel inferior e, portanto, incapaz de auto governança.
Particularmente, a culpa de Eva tem sido uma noção extremamente
poderosa no Ocidente, o símbolo mais explícito de uma maldição cultural
duradoura imposta às mulheres. Uma maldição que as prende a uma falha ou natureza
defeituosa ou carente, com o que é facilmente corrompido, instável e
inconsistente, mutável e, portanto, caótico, imprevisível, destrutivo ou
simplesmente demoníaco. Com algo que, em resumo, deve ser desprezado e temido,
dominado e controlado.
Por tudo isso, de tempos em tempos, vale a pena perguntar: por que
Eva foi culpada em primeiro lugar? Eva foi a culpada pelo que, em primeiro
lugar?
Realidades
Caídas
O Gênesis é uma peça-chave no simbolismo do poder patriarcal
ocidental. Antes de tudo, a história da origem introduz a ferro uma hierarquia
na ordem da criação. Estamos diante de um mundo onde o poder da criação está
exclusivamente nas mãos de um deus masculino, solteiro, solitário, metafísico,
todo-poderoso, entronizado. Um deus dos deuses, um rei dos reis, um senhor dos
senhores. Um deus pai supremo, cujo trono se eleva acima da criação. Sem
dúvida, pode-se ver aqui um modelo para os "senhores do mundo",
aqueles que, a partir de um certo ponto da história, se permitiram construir
tronos celestiais, pois já tinham os planos dos tronos que tinham construído na
Terra. O que é certo é que se trata de uma ordem mundial, onde alguns devem
necessariamente ser dominadores, enquanto outros devem ser dominados. Precisamente,
este modo de vida e visão do mundo baseada na dominação é chamada de
patriarcado. O patriarcado é o modelo cultural que, de várias formas, tem
prevalecido no Ocidente desde há milênios, o mesmo que ainda está em pleno vigor
hoje.
O modelo cultural patriarcal impõe e naturaliza uma visão dualista
e hierárquica da realidade. Sob o pretexto de nos oferecer uma explicação
satisfatória, somos encorajados a classificar os elementos que compõem a
superabundante e dinâmica variedade do real, opondo-os e desigualando-os
mutuamente, como a única medida possível de ordem e critério de compreensão. O
patriarcado é assim transformado na visão hegemônica, segundo a qual, por
exemplo, os homens são considerados mais valiosos que as mulheres; a
heterossexualidade é considerada a norma, o normal, e é preferível e superior a
todas as outras formas de relação afetiva ou apaixonada entre os seres humanos;
a mente e a alma são amputadas e acima do corpo e da sexualidade; a humanidade
é considerada como separada da natureza e acima dela; e a divindade aparece
como uma entidade totalmente distante, puramente espiritual, e necessariamente
desconectada do mundo material. Isto, para citar apenas algumas das oposições
hierárquicas mais conotadas do pensamento patriarcal.
No relato de Gênesis, Eva, a mulher, é-nos apresentada como um
indivíduo que é atrofiado e até mesmo torcido desde a sua origem. Vindo da
costela de Adão ela é apenas um apêndice do homem; por marca de nascimento e
ordem de aparição, a mulher é apresentada como uma criatura dependente de nível
inferior, mais atrasada em relação ao homem e, por essa mesma razão, mais
próxima dos animais - daí sua afinidade com a serpente, o réptil da terra -.
Assim também, se seguirmos a rigorosa hierarquia da criação, Eva aparece dois
passos abaixo da divindade. Ao contrário de Adão, ela não foi moldada
diretamente da terra pela mão de Yahweh.
Isto tem sido tradicionalmente interpretado como um sinal
irrefutável da inferioridade e fraqueza de Eva e fraqueza das mulheres em
relação aos homens. Mas, também, devido à sua distância do criador, a mulher
seria mais propensa à desobediência desde o início, mais inclinada à
desproporção, ao excesso, ao transbordamento e à rebelião, ao mal. Este
"defeito de fabricação" da mulher também a tornaria mais propensa a comungar
com aquelas dimensões degradadas de nosso imaginário cultural ocidental. Assim,
tradicionalmente, a mulher é colocada em conexão com o telúrico e não com o celeste;
em uma relação de contiguidade ou proximidade com o humilde, com o material
corpóreo entendido como o abjeto, em oposição ao espiritual elevado ou divino;
mais inclinado, então, ao intuitivo e ao instintivo animal, à luxúria e aos
prazeres sensuais do que aos árduos e transcendentais empreendimentos
intelectuais ou metafísicos. A própria ideia da tentação (uma categoria crucial
enfatizada pelo catolicismo medieval) geralmente se refere ao corpo da mulher -
sua atração sexual -, tantas vezes concebida como a própria causa da queda da humanidade.
A queda é precisamente aquela calamidade pela qual Eva foi culpada.
No entanto, dentro do esquema dualista e hierárquico do Gênesis, a mulher
aparece desde o início imersa entre as realidades caídas ou degradadas, que,
por sua vez, estão em relação direta com o mundo corpóreo e material. Não é de
modo algum acidental, portanto, que na Idade Média o catolicismo tenha
elaborado uma doutrina duradoura, que não é apenas misógina - Lembre-se da
relutância doutrinária, ainda hoje em pleno vigor, em permitir que as mulheres
sejam ordenadas como sacerdotisas - mas também intransigentemente ginecofóbica.
Não só demonizava a sexualidade humana em geral, associando-a intimamente ao
pecado, mas vinculando especificamente o sexo feminino
à caverna
viscosa do inferno.
Giovanni Boccaccio, por volta do século XIV, escreveu uma blasfêmia
e divertida
parodiar esta
associação negativa entre a genitália feminina e o inferno cristão. Nesta
história, um ermitão piedoso concorda em acolher uma garota indigente em sua
modesta cabana. Após pouco tempo, o eremita - que viveu em absoluta solidão, em
perfeita penitência e que só se alimenta de raízes - começa a experimentar um
desejo violento como resultado da convivência com a mulher. Irremissivelmente caiu
em tentação carnal, o ermitão faz uso de toda sua retórica religiosa para
persuadir sua convidada de que "o diabo" havia se tornado
extremamente irado e arrogante, e a única solução possível era mandá-lo para o
"inferno" o mais rápido possível. É claro que o inferno e o diabo se
referem, respectivamente, a ela e à sua sexualidade. No entanto, para o
infortúnio do homem religioso faminto, a menina, que não era tão ingênua, logo
se apaixonou pelo jogo. Finalmente, já incapaz de responder à voracidade
infernal de sua companheira, o ermitão é forçado a implorar por misericórdia.
A anedota é atravessada por um riso lúcido e dessacralizado, cheio
de sugestões profundas. Diante de um corpo feminino desprendido, livre de seu controle,
o ermitão é ostensivamente diminuído e indefeso; a menina ingênua, por outro
lado, assumiu o tamanho de uma mulher monstruosa, cujo corpo ameaça devorá-lo e
absorver completamente o homem. Mais apaixonado por buscar a iluminação através
do jejum e dos tormentos da carne, essa forma de ascetismo mais próxima do
masoquismo, que busca a subjugação do corpo por meio da negação -, o religioso
mostrou-se incapaz de comungar adequadamente com os estados inferiores, que é o
que, afinal de contas, simboliza o inferno, antes e depois da carga moral que o
cristianismo lhe acrescentou.
O eremita não está
rejeitando a exigência de uma sacerdotisa exigente, uma experiência
não sem risco e
dor, mas que poderia muito bem transmutá-lo e enobrecê-lo, uma queda que poderia
ter o valor de uma iniciação?
Tem sido dito que a experiência orgástica, como a experiência vital
do próprio ser humano, é um complexo entrelaçamento de opostos, uma descida e
uma subida, uma sucção ao mesmo tempo infernal e celestial, uma revelação das
relações ambíguas entre dor e prazer entre vida e morte. Ademais, há formas de
ascese oriental, como o tantrismo, que não vê qualquer contradição entre a
carnalidade e a espiritualidade, mas sim incentiva o cultivo de uma disciplina
sexual como método para acentuar nosso conhecimento sobre a variada realidade
que nos rodeia. Tal conhecimento, diz-se, só pode ser obtido através da
experiência dos extremos. E o fato é que, assim como acontece com a lâmpada, o
esclarecimento só é obtido através de uma combinação adequada de opostos, de um
polo positivo e de um polo negativo.
Entretanto, no Ocidente, as aspirações mais nobres do coração
humano são geralmente incompatíveis com uma aceitação alegre da realidade
sexual. O pensamento hegemônico não tem traçado seu caminho até o topo, sejam
estas cúpulas intelectuais ou espirituais, abraçando o corpo, explorando e
explorando as energias de origem carnal. Pelo contrário, como é bem conhecido,
a estreita associação do corpo - e do corpo feminino em particular - com o
pecado e a tentação tem servido historicamente para punir as paixões
"ruins" ou "baixas", desvalorizando tudo o que diz respeito
ao mundo sensual e sexual. A partir desta abordagem, culpa, esse instrumento de
autopunição, se fazia passar como um instrumento de redenção dessas paixões
pecaminosas.
Em um sentido mais amplo, a condenação do corpo da mulher chega
também à natureza e à vida material em geral, como manifestações de culpa,
falta ou defeito original. Como a mulher, a natureza também é uma realidade
caída que o homem é chamado a combater, a subjugar e controlar, tomando-a como
sua propriedade. Formas modernas de apropriação e exploração dos recursos
naturais, que atualmente nos deixam imersos em um colapso ecológico, têm levado
esta linha de pensamento patriarcal ao limite, desvalorizando a natureza e
distanciando-se dela a ponto de reificá-la, pensando nela primeiro como um
espaço a ser subjugado, como o produto de consumo, e não como uma condição
indispensável para nossa subsistência como espécie.
Mas a natureza parece desvalorizada desde o início, de acordo com o
que é dito em Gênesis. Recordemos que, na história, Yahweh Deus se coloca em
uma exclusividade hierárquica em relação a toda a criação, da qual se separa e se
diferencia drasticamente. A primeira linha do Gênesis, o preâmbulo à criação,
apresenta-o a nós como um espírito "pairando sobre as águas", ou
seja, como um deus que carece de consistência material, uma entidade puramente
espiritual. Estamos aqui antes da primeira grande distinção ou oposição,
seguida de sua consequente hierarquização. Por um lado, temos um criador, ou
seja, aquele que faz. Por outro lado, sua criação, isto é, o que é feito, o que
o criador fez. E o que é feito não é geralmente concebido como inferior àquele
que o faz? A consequência imediata deste raciocínio - uma grelha de leitura
patriarcal - é que toda a criação está subordinada ao criador, é colocada um
degrau abaixo dele. Neste caso, Yahweh Deus é apresentado como o criador do céu
e da terra; ele precede sua criação e se distingue dela. A criação é matéria; a
matéria, diz-se no Ocidente, é uma realidade degradada, pois é mutável, sujeita
à corrupção e, portanto, inferior à realidade espiritual e evidentemente
superior do criador.
A queda nada mais é do que a imersão da alma humana no mundo
material e corpóreo, e a base final da culpa que é atribuída a Eva é, é
precisamente o desejo de uma situação anterior a este outono. Isto se deve ao
fato de que Eva - que supostamente usou seus encantos para enganar Adão - é
diretamente responsável por nossa condição material e mortal, que é entendida
como a fraqueza ou defeito inerente tanto da espécie como do mundo que
habitamos. Em resumo, foi através de Eva que o Criador teve a ideia de nos
apresentar à morte e, a propósito, às misteriosas leis da matéria.
Se você olhar de perto, a culpa de ter instigado a aparência da
morte no horizonte do ser humano é provavelmente a acusação mais grave e mais
ardilosa de que o patriarcado ocidental se nivelou contra as mulheres. E o fato
é que, mesmo que não nos importemos com a história da queda e sua interpretação
tradicional, é claro que a lição foi aprendida a fundo, por exemplo, nos casos
recorrentes em nossas sociedades, nos quais uma mulher que foi violada - ou
mesmo assassinada - é considerada responsável por seu infortúnio sob o
argumento de que ela provocou seu agressor, o seduziu e o fez perder a cabeça:
ela o arrastou para baixo. Resumindo, ela a trouxe isso sobre si mesma.
Este tipo de raciocínio redefine a vítima, fazendo-a parecer
culpada e responsável. A verdade é que este deslocamento de significado é
sempre feito em nome de um preconceito cultural justificado pela ideia de que
as mulheres são responsáveis
pela fatalidade
que paira sobre toda a espécie. Daí segue-se que aquela mulher, herdeira fatal
dos encantos de Eva (encantos que estão ligados às realidades caídas da matéria
e do corpo), pode ser morta e até mesmo responsabilizada por sua morte. Pois,
afinal de contas, não foi a mulher que, desde o início, trouxe a morte ao
mundo?
Não foi ela quem
gerou e deu à luz a morte, a autora original de nossa corrupção irrevogável?
"Pela mulher começou o pecado, e por sua culpa todos nós
morremos" - escreve o autor de Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, que a
tradição geralmente identifica com o muito sábio rei Salomão. É por causa dela
que todos nós morremos. Consequentemente, se a humanidade é corrompida pela
fatalidade, as mulheres, por causa de Eva, o são duplamente por causa dela.
Michelangelo, A Queda do Homem, pecado original e expulsão do Paraíso, 1509.
Eva
antes de Eva o ventre e o túmulo
Quem quiser interrogar diretamente Adão e Eva deve saber que um bom
lugar para os encontrar é um cemitério. Por exemplo, atravessando uma das
entradas principais do Cemitério Geral de Santiago, você pode ver as estátuas
solenes dos pais da humanidade colocadas nas laterais de uma galeria gótica
vistosa e cheia de nichos. Há muita eloquência nestes anfitriões de tanga, que,
sendo o germe da vida, também nos dão as boas-vindas ao cemitério.
"Perdi o Paraíso, por minha causa meus filhos não nascem
lá", está escrito nos pés de Eva no cemitério. Ela parece especialmente
modesta. Ela está se segurando por perto, tentando cobrir seu corpo, como se cobrisse
uma vergonha ou sufocasse um perigo. Ou
ambos ao mesmo
tempo. Eva estreita o rosto e mantém as pálpebras meio fechadas, como se
evitasse olhar para seu acusador, ou seja, para qualquer um que olhe para ela.
É a mesma Eva
que esculpimos em nossa imaginação, segundo a qual não olhar diretamente em
seus olhos é o sinal inconfundível de culpa.
"É minha culpa que a morte reine aqui", lemos aos pés da
estátua de Adão, um homem barbudo nos ossos, apoiado em um bastão ou em uma
bengala. O escultor esculpiu "por minha causa" a seus pés, mas teve o
cuidado de imprimir em seus olhos um olhar franco e sincero. Ao contrário de sua
companheira (que evita olhar e olha para si), Adão, entristecido, olha o
cemitério ao seu redor, numa pose que expressa o cansaço e, sobretudo, a
resignação.
Assim disposto, neste ambiente sombrio, a mensagem das estátuas é
muito clara. Desde aquele incidente da serpente e da maçã, nunca mais nascemos
"lá". Fomos forçados a nascer "aqui", neste mundo
imperfeito que exploramos com sentidos aproximados, imprecisos, limitados e
perecíveis. É exatamente aqui que o problema parece estar. Trocar placidez pela
dor, perfeição por imperfeição, eternidade por impermanência, não é um péssimo
negócio? O mito de Adão e Eva nos ensina que a mulher incitou o homem a cometer
um "pecado", que envolve e manto fatal sobre o erro, identificando-o
como a causa de algo mais que um tropeço: uma queda íngreme, uma descida, uma
regressão, uma degradação.
No fundo, tal mensagem envolve uma certa forma de contemplar a vida
e a morte, entendendo esta última como uma degradação da primeira. Dizem-nos
que a vida é um lugar de exílio, se não um vale de lágrimas. Dizem-nos que a
vida deve nos parecer degradada, imperfeita e, por causa disso, insuficiente,
pois, em parte, viver é aceitar que é preciso construir muitos cemitérios. O
paraíso, por outro lado, exclui por definição os cemitérios. Como mudamos um
mundo plácido, seguro e incorruptível para este mundo em constante metamorfose
e decadência? A estátua de Adão dá um passo atrás, para deixar claro que a
culpa - a culpa por toda essa bagunça podre que chamamos de mundo - foi
atribuída a Eva. Somente a mulher conhece a linguagem sedutora e bestial da
serpente. Elas são da mesma natureza. Ambas são répteis da terra, figuras dos
caídos, realidades abjetas e condenadas.
Há, no entanto, uma segunda leitura a ser feita.
Se nos dizem que Eva é a mãe de todos os vivos e é, também, quem
engendrou a morte, seu abraço acolhedor no cemitério pode ser interpretado além
da conotação sombria que normalmente lhe atribuímos. Bem pensada, a imagem
corresponde pontualmente à acolhida do doce e azedo que cada pessoa recebe no
momento de fazer sua estreia na vida: não é uma contradição, nem é impreciso,
admitir que começamos a morrer no exato momento de nosso nascimento e que nossa
mãe, como Eva, nos deu, ao mesmo tempo, vida e morte. A primeira porta que
devemos empurrar está entre as pernas de nossa mãe e esta porta é, para cada um
de nós, tanto a origem do mundo quanto a entrada no panteão.
Entre a vida e a morte, o ventre e o túmulo, haveria uma relação de
semelhança e contiguidade, uma relação que tem sido universalmente afirmada por
uma multiplicidade de culturas, que nos deixou o testemunho de sua veneração da
terra, do cosmos e de todos os seres vivos, sob a figura de uma grande Deusa que
dá a vida e a morte simultaneamente. Uma Deusa Mãe diante de Deus Pai e Jardim
do Éden, uma Eva antes de Eva.
Árduas e inúteis discussões teológicas têm girado em torno da
questão espalhafatosa de Adão e Eva terem ou não um umbigo. Entretanto, é
suficiente pensar nas obras da Renascença ou olhar novamente para nossas
estátuas no cemitério para ver que nossos primeiros progenitores muitas vezes
usam seus nós de barriga, um sinal irrefutável de que antes estavam unidos a
uma mãe. Tudo nasce em algum momento e sempre há um antes.
Hoje sabemos da existência da chamada Deusa Mãe ou Deusa do dos
inícios, uma divindade de mil rostos, que tem sido nomeada de inúmeras maneiras
diferentes pelas mais diversas culturas. Ísis na cultura egípcia, a Frígia
Cybele e Fenícia Astarte; Demeter ou Ceres na cultura Greco-Latina; Kali e
Ananta no hinduísmo; Pachamama no altiplano andino, entre muitas outras, são
todas expressões da Deusa, cujo profundo simbolismo nos conecta com uma
cosmovisão que pré-existia - e ainda representa uma alternativa - ao modelo
cultural patriarcal.
Se o patriarcado nos legou até hoje uma imagem dualista e
hierárquica da existência, onde a morte e vida são consideradas realidades
opostas e antagônicas (a primeira escura, a segunda luminosa e, portanto,
preferível e superior), as culturas da Deusa, em suas diversas manifestações,
convidam-nos a experimentar uma outra maneira de olhar e de entender. Este
ponto de vista, que Humberto Maturana chamou de "matrístico", implica
uma redescoberta da vida como um processo dinâmico e ambivalente, onde os
extremos que tendemos a opor e hierarquizar (homem/mulher,
heterossexual/homossexual, vida/morte, luz/sombra, corpo/espírito,
corpo/espírito, o humano/o divino, o individual/o coletivo) aparecem como
dimensões harmônicas e complementares. A partir dessa perspectiva (que não nega
nem pretende controlar - mas sim celebrar - o mutável ou impermanente),
entende-se que onde quer que a vida se mova, a morte também pairará. No final,
todos os antagonismos são reabsorvidos na dinâmica de um processo ininterrupto,
onde tudo o que existe encerra ou implica seu oposto.
A
Deusa das Mil Faces
Vênus
de Willendorf, figura da Deusa Paleolítica, 25.000 AEC.
Não é por acaso que as antigas culturas patriarcais da Europa e da
Ásia Menor representavam a Deusa sob formas mutáveis, híbridas e paradoxais. As
representações da Deusa babilônica Ishtar, por exemplo (e também as da chamada
"Deusa das cobras" de Creta), mostram-na sob a forma de uma mulher
jovem e sensual, sempre acompanhada por felinos, borboletas e cobras, símbolos
antigos de realidades mutáveis, de ciclos dinâmicos de morte e renovação do
natural, da ambivalência fundamental de tudo o que existe. Não é a borboleta
radiante a transmutação de seu oposto, o verme? Não são os felinos animais sanguinários
e, ao mesmo tempo, animais graciosos e majestosos? Não é a serpente, tão
maligna no Oeste patriarcal, um autêntico uroboro, capaz de fazer-se e desfazer-se,
desintegrar-se e reintegrar-se, mudando sua pele periodicamente? Da mesma
forma, a Deusa pode tomar a forma de uma mulher, ou, alternativamente, pode combinar
livremente em si atributos femininos e masculinos, humanos e animais. Figura
feminina oscilante com muitos rostos, às vezes ela é uma donzela, às vezes ela
é uma mãe grávida, geralmente representada no próprio momento do parto. Restos
materiais e mitológicos arcaicos a mostram como a mãe e consorte de um touro ou
cabra - o princípio da complementaridade masculina - a personificação da vegetação
que emerge da terra na primavera, alcança sua plenitude e maturidade no verão,
é reabsorvida após sua queda outonal e morre no inverno, à espera de nova
germinação.
Deusa
das serpentes, Knossos, Creta, 1600 AEC.
Ainda mais explícitas são algumas estatuetas de terracota da Deusa,
que a apresentam como uma mulher idosa, às vezes marcadamente decrépita, mas
grávida e em trabalho de parto. É um ambivalente e de espantosa profundidade: a
morte grávida de vida, o ponto exato em que a vida e a morte se tocam e se
fundem, onde a destruição do antigo dá lugar ao novo. Tal imagem faz sentido na
experiência particular de cada pessoa. Qualquer pessoa que passou por momentos
de crise - ou seja, aquelas situações limite que sinalizam uma transformação de
vida - terão que enfrentar o perigo e a solidão, a incerteza e desespero,
tortura e morte, seguido de um despertar para outra vida e o encantamento da
renovação. Como na referência simbólica de descendência infernal, passar por experiências-limite
implica uma morte simbólica, uma saída deste mundo para renascer nele. Da mesma
forma, os momentos de crise são as mortes de grávidas. Depois de enfrentá-los,
a pessoa cruza um limiar e não é mais a mesma pessoa. Reconstruímo-nos, compondo
de forma criativa as peças daquela vida anterior que foi quebrada.
Tlazoltéotl,
Deusa mexicana da fertilidade e do desperdício.
Como se pode ver, desta perspectiva, que é totalmente estranha à
nossa visão patriarcal do mundo, a mulher e a morte também estão intimamente
ligadas. A Deusa dos começos (que, como Eva, recebe o nome de mãe de todos os
seres vivos) seria caracterizada precisamente por dar e preservar a vida. Como
mãe, ela é encarregada de nutrir e proteger, dando alimentos, bebida, amor, felicidade.
Mas também, e assim como Eva, a Deusa é a privação da vida: ela nos concede a
morte. No entanto, estamos convidados a valorizar esta relação de uma maneira
diferente. Assim, em vez de ser um ponto culminante ou um fechamento absoluto,
a morte nos referirá fundamentalmente a um espaço, a Terra, que também é o
inferno, o submundo, a morte, o reino subterrâneo que recebe tudo o que está
morto, mas que é também a matriz onde tudo é reformulado, recriado e regenerado.
Através da imagem da Deusa, a mulher está simbolicamente ligada aos poderes
criativos e nutritivos da terra fértil, a mesma terra que nos acolhe e
a mesma terra
que nos recolhe e absorve quando morremos, porque tudo o que morre vai para ela
ou para sua atmosfera. É uma grande mãe que é, ao mesmo tempo, ventre e túmulo.
Por este motivo, toda morte é um retorno à mãe, um retorno ao útero, ao corpo
inferior, um fim que é sempre um novo começo.
Há um conto popular muito antigo, espalhado na Europa no início da
era cristã, que se trata de uma viúva inconsolável que se deixa seduzir por um
estranho. Nesta extraordinária mistura de viúva negra e viúva alegre, podemos
encontrar uma personificação muito eloquente da Grande Deusa.
Na versão romana desta história, intitulada "A Viúva de
Éfeso" (recolhida por Petronius em seu trabalho O Satiricon ), nos é dito
que uma mulher, cujo marido havia morrido recentemente, havia chorado
amargamente sobre sua sepultura por quatro dias. Ela estava determinada a
segui-lo na morte. Assim, mantendo perfeito luto, ela se absteve de comer e
dormir. Isto aconteceu em uma gruta, situada sob a colina, onde um soldado
estava vigiando os corpos de dois homens revoltosos crucificados. Em um momento
de distração, o centurião ouviu o lamento desesperado da mulher, e se propôs a
ir confortá-la. Ele lhe ofereceu os alimentos e bebidas que tinha consigo. Mais
tarde,
expressando
abertamente seus desejos a ela, ele sugeriu que desse uma pausa em sua dor e se
permitisse desfrutar novamente das delícias da vida. Como era de se esperar, a
viúva ofendida, o rejeita terminantemente. No entanto, subitamente atraída pela
beleza do jovem, ela rapidamente esquece seu voto de fidelidade ao seu falecido
marido. Finalmente, ambos acabam fornicando ao lado do corpo do defunto. Enquanto
isso, no alto da colina, alguém aproveita a oportunidade para roubar um dos homens
crucificados de que o centurião estava encarregado.
Não importa o quanto ele procure, o centurião não consegue
encontrar o cadáver, tendo como certo que um parente o havia levado para
dar-lhe um enterro secreto. No caminho de volta para a viúva, o soldado chora
de raiva e desespero, pois como castigo, tormento e uma morte horrível o esperam.
Ao vê-lo assim, a mulher propõe levar o corpo de seu marido e pendurá-lo no
lugar do crucificado. Ela parece razoável: não está disposta a perder dois
homens seguidos, é melhor crucificar um marido morto do que perder um amante
vivo. E assim, o soldado e a viúva resolvem tirar o corpo morto de seu marido
da cripta e juntos eles o pregam na cruz.
Embora esta história tenha tido que suportar o peso de uma
interpretação misógina, que condena a viúva, tal como Eva foi condenada, como
um símbolo de feminilidade e maldade, na versão popular que Petronius assume,
não há noção de culpa na versão popular. Há, por outro lado avaliação positiva
da inevitabilidade da mudança e da renovação. E a mulher parece completa nela,
afirmada e validada em suas diversas facetas e dimensões, incluindo sua
sexualidade.
Assim também, livre da culpa, Eva continua sendo a Deusa dos
primórdios. E, certamente, a Deusa ainda está viva na linhagem de Eva. A
serpente também ainda está lá, convidando-a a agir, para colocar a vida em
movimento. Vamos esquecer a inimizade decretada pelo Deus Pai tirânico entre a
linhagem da serpente e a linhagem das mulheres, e poderemos ver a imagem
telúrica e cósmica da grande serpente, semelhante à imagem que nos foi legada
pelo Hinduísmo de Ananta, "o infinito", a serpente primordial com mil
cabeças em cujos anéis repousava o deus Vishnu sonhando com novas vidas e novos
mundos, entre avatar e avatar. Não é muita coincidência, então, que a
etimologia hebraica da palavra Eva se refere à "vida"? E necessariamente
a vida, como a Deusa e a serpente, como Eva e a viúva, deve conceder a morte a
fim de se regenerar, trocar de roupa e continuar.
Vishnu descansando em Ananta.
O
Ninho da Serpente
Em todos os momentos nossa existência prática carrega a marca da
ambivalência. Não vivemos em um mundo puramente espiritual, nossa experiência também
não se reduz ao instintivo ou ao animal. Todo ser humano é, como diria Nicanor
Parra, uma mistura de anjo e besta, sempre a meio caminho e oscilando entre os
dois extremos. Bem considerado, isto não é necessariamente um sinal de uma
existência imperfeita ou empobrecida. Entretanto, a história de Adão e Eva é a
primeira história que conhecemos, na qual a ideia é de que deve haver
necessariamente alguém a quem culpar por nossa própria condição humana: a
serpente é a culpada por Eva, Eva é a culpada por Adão, e nós culpamos Adão por
ter escutado ambas. Assim, o jogo da culpa pode ser resumido na necessidade de
projetar em outro todos os sentimentos de insatisfação com respeito ao que
somos.
No entanto, a culpa só pode se manifestar em toda a sua intensidade
quando a ilusão de que é possível culpar outra pessoa desaparece, quando não
temos escolha a não ser atirar a pedra contra nós mesmos. Encurralados pela
culpa, atacamos a nós mesmos. Jung disse que a culpa nos coloca frente a frente
com nossa sombra, aquela nossa cara que preferimos esconder, aquele inimigo que
habita em nosso próprio coração, a causa do inevitável conflito que acaba por
nos dividir. E o fato é que, na verdade, a culpa nos dobra e nos dilacera interiormente,
assim como o deus do Gênesis separa a luz da escuridão, aspectos que, através
deste ato de força, tornam-se opostos e irreconciliáveis, a ponto de não
poderem mais se misturar ou interferir um com o outro.
Isto explicaria a vã tentativa de Eva de culpar a serpente. Na
verdade, ao tentar culpá-la, ela descobre que ela mesma é o ninho da serpente. A
serpente é sua sombra, seu negativo fotográfico, uma contraface que é também
ela mesma. Entretanto, em sua tentativa de ocupar um lugar menos nefasto nesta
hierarquia de culpa, a mulher deve culpar-se a si mesma, e para isso ela deve tentar
se separar, dividir-se, fugir, negar-se.
Em suma, ela
deve prometer desobedecer à serpente, mesmo que isso signifique trair-se a si
mesma.
A serpente é a sombra de Eva, uma sombra que paira sobre todo o
Oeste patriarcal. É o pesadelo moral que nossa cultura representa sob a forma
de um monstro feminino ou de uma mulher cobra. É claro que não se desconhece que
Eva é também a mãe de toda a raça humana. Mas assim como através dela
existimos, ao mesmo tempo ela introduziu o pecado que originou a existência da
morte no mundo. Esquizofrênica, nossa cultura a reconheceu como a a primeira,
ao mesmo tempo em que não a perdoa pela segunda. É por isso que se diz que há mulheres
honradas e putas, há mães e solteironas, há santas e há bruxas. Há partes
escuras das mulheres que devem ser reprimidas e enterradas. Em resumo, há mulheres
boas e mulheres más. Nas primeiras, a culpa tem funcionado eficientemente, tem
conseguido domar sua sombra. As segundas escolheram não se despojar daquelas
qualidades noturnas que supostamente as degradam e as separam da comunidade.
Estas defendem seu direito natural de serem ambivalentes. Para serem, por
exemplo, putas e santas, virgens e mães, tolas e sábias; são uma coisa, outra,
ou ambas, indistintamente.
No entanto, nosso programa cultural força as mulheres a manter uma
identidade rasgada. Elas são obrigadas a interpretar o papel de Eva, de acordo
com o qual as mulheres carregam uma contradição original que as torna suspeitas
e condenáveis. O que é curioso é a observação contida neste papel escrito pelo
patriarcado: a contradição ou ambivalência é um atributo feminino e, como tal,
deve ser entendida como uma imperfeição, uma irregularidade, uma
monstruosidade. Para eles, culpados; para eles, perigoso. E para todas nós:
como o sinal mais evidente de nossa condição incomensurável e vergonhosa.
Uroboros.
Mudando
como a lua
Os seres humanos, caídos na vida material e sujeitos, portanto, à
corrupção temporal, estão condenados a serem criaturas que nem sempre
permanecem os mesmos. E aí reside sua imperfeição, que se torna mais aguda se
for uma mulher. Não é em vão que a mulher, como a fortuna, tem sido
tradicionalmente comparada à lua. Esta é provavelmente uma das mais antigas metáforas
que enriquece nosso inconsciente coletivo, aquele porão comum onde estão amontoados,
em caracteres simbólicos ou arquétipos, as imagens mais cruas e primordiais que
são compartilhadas por toda a espécie humana. A lua é a mulher, a lua é a
fortuna. Sem dúvida, a ligação secreta que os conecta, sem a qual a metáfora
não existiria, é a ideia de impermanência, de instabilidade, da experiência dos
extremos, o que só é possível dentro de um devir: precisamente o dos ritmos
lunares que a mulher corresponde e compartilha.
A ligação entre a lua e o fluxo menstrual envolve uma sincronia
entre o corpo cósmico e o corpo feminino. No entanto, em vez de representar uma
qualidade fascinante, é muitas vezes apontada como o sinal de uma anomalia
perturbadora. Como podemos confiar em alguém cujo temperamento é oscilante e
contraditório como a lua e seus ciclos? Motivo suficiente para desconfiar da
mulher, pois assim como hoje ela nos apresenta um rosto, assim, sem hesitação,
ela se virará e nos mostrará exatamente
a face oposta.
Uma desconfiança semelhante desperta a imagem da roda da fortuna, que nos lembra
que a vida é composta de mudanças incontroláveis e inesperadas. A roda da
fortuna gira e a vida se esvai na incerteza, insegurança, o desconforto de ser
elevado e enterrado, de ser, ao mesmo tempo, a si mesmo e ao seu oposto. A contradição,
este fluxo entre as polaridades, produz medo e vertigem em nós. É parte do que
nos ensinam, desde cedo, a rejeitar, da mesma forma que aprendemos a rejeitar
nossos corpos, a disfarçar nossos fluidos, nossas lágrimas, o vômito, o sangue
menstrual, o sêmen, a saliva. A verdade é que a fluidez empurra o estável,
move-o, altera-o. Mas o estável nos seduz.
Uma visão diferente nos apresenta a mitologia grega mais arcaica,
onde a lua foi representada por uma tríade de deusas que simbolizavam as três
fases da lua, muitas vezes ligadas às três idades ou fases das mulheres (donzela,
mãe, velha sábia). Assim, havia uma Deusa para a lua crescente, associada ao
estágio juvenil; este lugar era geralmente ocupado por Artemis, a deusa
caçadora, uma virgem que goza de sua independência e abomina sujeição ao macho.
Em segundo lugar, havia a Deusa da lua cheia, ligada ao estágio de maturidade,
que geralmente era apresentado sob a figura de
Selene.
Finalmente, a fase de declínio da lua foi sempre associada à Deusa enigmática
Hécate, arquétipo
da velha sábia, Deusa do cruzamento, a quem a poeta Sappho distinguiu com o
título de "a rainha da noite".
Como uma convergência das fases anteriores, Hecate foi representada
sob a forma de uma Deusa com três faces e três pares de braços (semelhante à
Hindu Kali). Assim, a Deusa simbolizou a soma ou síntese do ciclo lunar na
imagem da lua negra, entendida não como uma mera ausência, mas como uma reformulação
criativa das luas passadas, o espaço de gestação da lua nova. Neste sentido,
pode-se ver em Hécate o reflexo de uma integridade ou totalidade feminina,
concebida como uma contradição e mudança, ainda não culpada ou culpabilizada. Esta
figura divina nos conecta com uma cosmovisão matrística, anterior à patriarcal
na Grécia; de fato, em sua Teogonia, Hesíodo menciona que o nome Hecate
significa "ela que tem mais poder". Entretanto, com o tempo, os
gregos se encarregariam de eclipsar e negativizar o Hécate, e mais tarde, na
época cristã, a Deusa seria considerada uma figura diabólica, a rainha das
bruxas e dos espectros noturnos, fundida com a obscura Lilith da tradição
hebraica.
Hécate.
A demonização da Deusa lunar tem sido o mecanismo simbólico que o
patriarcado tem usado para punir a ambivalência feminina, confinando certas
facetas das mulheres ao território das trevas, com tudo o que isso implica em
culpa e rejeição. Entretanto, é importante sublinhar a figura de Hécate como
uma Deusa do crepúsculo, dos limiares e da encruzilhada. Estes são símbolos
ambivalentes associados aos estágios de deriva ou mudança existencial e que, ao
mesmo tempo, torna evidente e fundamental a união e a complementaridade
fundamental dos opostos. Não são os crepúsculos, de manhã e à noite, a prova de
que recebemos diariamente que o dia e a noite, luz e escuridão, reconciliam-se
e fundem-se em uma unidade emocionante e profunda?
Ambivalência que nos faz lembrar que, tomada em sua
unilateralidade, a luz só pode garantir um conhecimento parcial e ilusório do
que existe, uma vez que, ao iluminar o céu, ela sombreia as estrelas. No
entanto, o patriarcado tem persistido em distinguir e privilegiar um lado
exclusivamente diurno e luminoso de nossa existência, referindo-se ao polo
elevado e masculino da alma e da razão. Primeiro, sob o patrocínio dos deuses
pagãos masculinos; depois sob o governo do único deus das religiões monoteístas;
finalmente, sob a predominância da razão instrumental, a mulher sempre esteve
confinada ao domínio noturno. Sob este estigma, foi-lhe negada, inicialmente, a
posse de uma alma e, mais tarde, o exercício pleno da razão. A verdade é que para
a visão de mundo patriarcal dualista e hierárquica, a ambivalência da Deusa
lunar deixa de representar o enigma da vida e torna-se um motivo para ardente desconfiança.
Ao mesmo tempo, a mulher é transformada naquilo que se opõe e é inferior ao
homem. Como a lua que brilha com pouca força no céu, ela é incapaz de brilhar
com uma luz própria. Ela é, portanto, condenada a usar uma luz emprestada, que
vem de outra fonte.
Tudo o que é sempre dominado e subordinado também deve ser
escrupulosamente controlado. E, precisamente, um argumento recorrente para
justificar o controle masculino sobre as mulheres tem sido sua reputação como
criaturas caprichosas e instáveis. A nós, homens, é dito que é um esforço fútil
tentar compreendê-las, mas que, no final, em um ato de solidariedade tocante e
sacrifício sublime, devemos
devemos amá-las.
As mulheres são vistas como uma esfinge que nos confronta com seu enigma.
Entretanto, como o aforismo de Oscar Wilde, é melhor pensar nela como "uma
esfinge sem segredos", cujo mistério, aparentemente incontrolável, se
reduz ao fato de que quando diz "não", significa "sim". É,
na melhor das hipóteses, uma esfinge, convenientemente animalizada, representativa
de um rebanho difícil de manejar, contra quem é necessário saber lutar e manter
à distância.
O que é certo é que todas essas formas de negação cotidiana
coincidem em apresentar-nos as mulheres como criaturas contraditórias e, portanto,
incapazes de articular um discurso coerente. Devido a isso, não é possível sua
autonomia e sua qualidade como interlocutoras adequadas, já que sua palavra
careceria de valor e consistência. Igualmente inconsistente, o comportamento
sexual das mulheres tem que ser julgado ambíguo e anômalo. Daí que as mulheres,
de natureza inconstante, seriam mais inconstantes sexualmente e mais propensas
ao adultério. Este é precisamente o argumento que tem fundado no Ocidente a
necessidade de pensar no corpo feminino como propriedade dos homens.
Em nossa cultura ocidental, o casamento tem sido tradicionalmente a
instituição projetada para domar os caprichos do corpo e da alma da mulher. É
também um mecanismo de domesticação das antigas fases lunares associadas à vida
feminina, que são reduzidas a uma sequência de papéis intimamente ligados à
apropriação masculina da sexualidade feminina. Assim, sob o olhar patriarcal, a
mulher será a menina virgem, depois a esposa e, finalmente, a viúva. Reificada
e trivializada, ela será ou um troféu a ser conquistado, ou um objeto
disponível para ser violado, mas nunca disponível para o estupro, e nunca a proprietária
de seus próprios atos, seu próprio corpo e menos ainda de sua própria vida.
Nesta ordem de coisas, é compreensível que a mulher seja obrigada a
pisar na serpente, para que, aprendendo com a serpente, ela não se descontrole,
se retorça e se enrosque, voltando-se caprichosamente para o ponto de vista
oposto. É bem conhecida a imagem da Virgem Maria pisando na serpente do Éden,
de pé sobre ela como quem se apressa a varrer a sujeira para debaixo do tapete.
Nesta imagem podemos ler uma forte declaração de princípios sobre a forma
fragmentária com que o Ocidente interpretou a mulher. Através dela foi nos dito
que a redenção/aceitação das mulheres em nossa cultura só é possível se elas
conseguirem subjugar seu rosto ameaçador e pecaminoso, precisamente aquele
rosto que olha para seu corpo e seu sexo, para sua afirmação e sua autonomia, mesmo
que isso signifique negar e exilar-se de si mesma, estabelecendo limites à sua
complexidade e ambivalência originais. Desta forma, a mulher se distancia da
serpente, deixa de simbolizar a velha concepção da vida e do mundo, eternamente
morrendo e eternamente se renovando, assim como a lua faz.
Porque, afinal de contas, não é a vida e seus caprichos, nosso claro-escuro
existencial, aquilo que o patriarcado condena quando condena as mulheres?
Assim, por exemplo, o ódio da doutrina católica contra a mulher parece estar fundado
em sua visão de contradição como uma imperfeição capital. Dito de forma
simples: Deus não pode contradizer a si mesmo. O perfeito exclui, por
definição, a contradição e o conflito (assim também, para o racionalismo
moderno, o que é propriamente científico deve ser entendido como um esforço
para eliminar contradição, ambiguidade e imprecisão).
Em "O martelo das Feiticeiras" (Malleus Maleficarum) - o
texto católico que mais contribuiu para a disseminação do ódio contra as
mulheres no Ocidente e que foi usado como justificativa para a caça às bruxas
realizada pela Inquisição - o
Inquisição -
encontramos uma definição antiquada do gênero feminino como um "mal
necessário", o que desdenhosamente sublinha a disposição contraditória da
fêmea. Substitua a palavra "mulher" pela palavra "vida" e a
citação misógina pode ser lida junto com a desconfiança de que a visão
patriarcal tenha projetado sobre a vida humana em geral:
"O que pode ser a mulher senão o inimigo na amizade, um
castigo inevitável, um mal necessário, uma tentação natural, uma calamidade desejável,
um perigo doméstico, um prejuízo delicioso, um mal da natureza, pintada com
belas cores".
Uma etiqueta semelhante foi carimbada pelos gregos em Pandora, que,
de acordo com o mito, foi tanto um presente como um castigo que os deuses
olímpicos decidiram dar à humanidade - uma humanidade até então composta apenas
de homens -. Como Eva, na tradição judaico-cristã, os gregos consideravam que a
caixa aberta por Pandora era a porta de entrada para todos os males e
sofrimentos que percorrem este mundo, tornando-o imperfeito e inadequado. A
mulher, construída e lindamente vestida pelos deuses, foi deliberadamente
criada como uma figura do mal, de quem é melhor ter cuidado e desconfiar.
Porque, como disse Hesíodo, confiar em uma mulher, esse ser sedutor, é confiar
em uma decepção.
Pandora.
Pandora foi um presente enganoso, como a vida também é frequentemente
descrita. Um presente divino e um engano fatal. Precisamente, a abominável
serpente do Éden convidou Adão e Eva a confiarem no que, segundo nos dizem, é
um engano. Mas será que realmente ouvimos a serpente? Sabemos exatamente o que
ela tinha para nos dizer?
Gênesis
recontado: Lilith
Sabemos que o Gênesis contém a história da criação do cosmos e do
primeiro casal humano pelo deus primordial da tradição hebraica, conhecido pelo
nome enigmático de Yahweh. Vale a pena notar, no entanto que a história nos
oferece duas versões alternativas da criação dos progenitores da espécie. Na
primeira, somos informados:
"Assim Deus criou o homem à sua própria imagem, à sua própria
imagem os criou, macho e fêmea os criou".
É impressionante que, nesta versão - uma espécie de rascunho apressado,
deixado ao acaso entre as páginas do Gênesis - não estabelece uma clara
oposição e hierarquia do macho sobre a fêmea, em termos da ordem e natureza de
sua criação. Como sabemos, o oposto acontece na segunda e mais conhecida versão
do Gênesis da criação do casal humano e a que teve mais consequências na
formação de nosso imaginário.
Nesta ocasião, a hierarquia é claramente demarcada. Yahweh cria antes
de tudo, o homem, moldando-o do pó do chão e respirando nele o sopro da vida. Posteriormente,
julgando que sua criatura não deve viver em solidão, ele decide fazer dele uma
ajudante. Ele faz o homem cair em um sono profundo e extrai sua costela, da
qual ele procede para moldar a mulher:
"Carne da minha carne", exclama o homem, "osso dos
meus ossos".
Aqui o homem, Adão, parece ter entendido muito bem o que está em
jogo. Ele é um bom aluno que repete de cor a lição de seu professor. A lição
consiste no seguinte: estabelecer a ordem, fazer um cosmos a partir do caos da
vida em um cosmos ordenado, é necessário, primeiro, diferenciar-se irreconciliavelmente
do outro, do diferente. O segundo movimento consiste em hierarquizar esta
dualidade. Assim, diante dos olhos do primeiro homem aparece a primeira mulher.
É óbvio que ela é diferente dele. Para começar, ela não foi formada a partir do
pó, como ele. Ela não é uma criação direta da divindade, como ele é. Em resumo,
ela não é igual a ele. O que ela é, então? Ela é um apêndice dele, ou seja,
alguém que não é totalmente outro, alguém que não pode ter uma identidade
própria, um pedaço dele. Assumindo esta visão, segue-se que, irremediavelmente,
ela está subordinada a ele, ela é sua propriedade. É evidente que, em Gênesis,
a ordem patriarcal de dominação narra-se a si mesma. E é esta ordem que
autoriza para dizer "isso é meu, ela me pertence".
Mas é possível continuar a primeira versão da origem, a que
permanece em Gênesis? A imagem de um primeiro casal humano criado em condições
de igualdade nos leva, mais uma vez, a um tempo antes de Eva. Mas esta origem
antes da origem deve ser procurada fora dos textos bíblicos.
É necessário, então, que nos voltemos à tradição oral hebraica, que
fala de Lilith como a primeira esposa de Adão, antes de Eva. Esta história, coletada
no Zohar e no Talmud, nos diz que Lilith se rebelou contra Adão, recusando-se a
ter relações sexuais na posição tradicional – ele sobre ela. O que o homem
exigia dela, ela considerava uma humilhação. Em sua recusa em colocar-se sob Adão,
Lilith argumentou que ambos foram criados do pó e, portanto, eram iguais. Note-se
que, ao contrário da criação de Eva (a partir da costela do homem), Lilith foi
criada a partir da mesma substância e ao mesmo tempo que Adão.
John Collier, Lilith, 1892.
Mas a história não pára por aí. Também se diz que, após sua
rebelião, Lilith teria escolhido se exilar voluntariamente do Paraíso,
desobedecendo ao próprio Criador. Deve-se esclarecer que a tradição atribui a
Lilith a posse de um presente muito especial. Ao contrário de Adão, ela
conhecia o inefável e impronunciável nome de Deus e, confrontando o criador,
ela teria ousado pronunciá-lo. Se também considerarmos que na tradição judaica
a capacidade de articular o verdadeiro nome de Deus é um dom perdido, fica
imediatamente claro que este atributo fez de Lilith um ser altamente poderoso.
Agora, se considerarmos que na tradição hebraica, saber o nome
secreto de alguém implica em possuir um dos meios mais poderosos para
influenciá-lo, a imoderação de Lilith atinge alturas insuspeitas. De fato,
pode-se dizer que a melhor maneira de assumir o controle sobre algo é nomeá-lo,
o que de certa forma é deduzido de cerimônias como o batismo cristão ou o fato
de que quem se converte ao Islã deve mudar seu nome. Recordemos, além disso,
que em Gênesis Adão nos foi apresentado como o criador da linguagem e,
portanto, da ação de nomear como um ato criador de realidade. Adão é o
distribuidor de nomes. É ele quem dá nome a Eva e a todos os animais do Jardim
do Éden. Somente ignora o verdadeiro nome de Deus.
Lilith, por outro lado, é capaz de olhar cara a cara o criador.
Estamos falando de
nada menos que
aquela criatura que representa a metade feminina da humanidade, uma mulher dotada
de um conhecimento supremo, que não hesita em usá-lo, desde que ela não se
permita ser sobrecarregada. Como podemos ver, nossa versão alternativa do
Gênesis reverteu a posição tradicional colonizadora.
No entanto, a tradição judaico-cristã transformou Lilith em um
espectro noturno, emparelhando-a com Samael, o satan hebreu, ou fez dela a mãe
dos demônios súcubos, ou seja, aqueles que, acreditava-se na época medieval, eram
encarregados de recolher o restolho do sêmen onde quer que estivessem, para
engravidar e dar à luz mais demônios (justificativa para poluição involuntária e
histórias de advertência para desencorajar a masturbação). A verdade é que
Lilith, como Hecate, acaba transformada em uma figura do mal por ter obtido
acesso a um conhecimento proibido, um conhecimento que não é suposto ser dela.
E esta Lilith também é semelhante à serpente.
Provavelmente uma das imagens mais famosas de Lilith é a pintura
homônima de John Collier, que a mostra nua, com cabelos avermelhados e corpo
cingido por uma grande cobra, numa atitude íntima e sensual. Será que Lilith
pode nos ajudar a entender o que a serpente tinha para nos dizer?
Na verdade, é possível apreciar uma notável semelhança entre a
Lilith e a serpente, se considerarmos que o chamado pecado original é,
estritamente falando, uma transgressão intelectual. A serpente diz a Adão e Eva
que, comendo da árvore, seus olhos seriam abertos, "e vocês serão como
deuses, conhecedores do bem e do mal". À primeira vista, o pecado original
parece ser um legítimo desprezo pela proibição de acesso a um certo
conhecimento, uma ação que desmantela, a propósito, as pretensões do criador de
estar em pleno controle desse conhecimento, em virtude de um privilégio de
posse, autoritário e excludente. Tanto Lilith como a serpente podem ser vistas
como as catalisadoras deste desacato essencial, sem o qual as faculdades e o
espírito de curiosidade inerentes à nossa condição humana não teriam sido despertados.
Mas Adão e Eva, longe de se orgulharem de terem aberto os olhos,
caem em uma maldição por terem seguido a serpente. E o restante da história é
de conhecimento geral.
Inanna/Ishtar.
Para contar a história do pecado e da queda de forma diferente, é
necessário traçar as origens mitológicas de Lilith. Lilith é conhecida por ser
uma derivação - e uma negativização - de Inanna ou Ishtar, a rainha do céu e da
terra da cultura sumério-babilônica na Mesopotâmia. Como a Hécate, coube para Lilith
ser transformada em um espectro, mantendo apenas a faceta destrutiva ou fatal da
Deusa, que costumava representar a capacidade da vida para devorar e remover o
criado. No entanto, a mitologia sumério-babilônica originalmente relacionava
Inanna/Ishtar com o planeta Vênus e suas fases ambivalentes: quem quer que olhe
para o céu notará que Vênus aparece duas vezes no dia, destacando-se como a luz
mais brilhante a cada crepúsculo, de manhã e à noite. Na Mesopotâmia, como a
estrela da manhã, Vênus era a virgem. Como estrela da noite, ela era a
prostituta.
Se voltarmos à cultura suméria - à qual devemos, entre outras
coisas, a invenção da escrita -, descobrimos que existiu o que foi chamada “prostituição
sagrada”, que era exercida pelas sacerdotisas da Deusa Inanna. Junto ao ofício
de escriba, a prostituição sagrada se destacou como um dos papéis mais
relevantes e prestigiados dentro desta sociedade. Naturalmente, a ideia de uma
prostituição sagrada é completamente estranha ao nosso entendimento, devido, em
grande parte, ao caráter eminentemente comercial e alienante que a prostituição
adquire entre nós. No entanto, entre os sumérios, a prostituição e a
sexualidade eram vistas como expressões de caráter sagrado. Como vigárias da Deusa,
as sacerdotisas sumerianas ou hieródulas - uma palavra de origem grega que
significa "serva do sagrado" - cumpria a missão de guiar os fios da
vida em conformidade com Inanna, a Deusa, que também era a prostituta ou
hieródula do céu. Nos templos da Deusa, as sacerdotisas prestavam serviço por
meio de uniões sexuais com homens, cerimônias de caráter ritual que propiciava
a fertilidade da vida humana, animal, vegetal e cósmica. Os homens que lá iam
não só contribuíam para a renovação geral, mas eles mesmos, observando a
disciplina do rito, experimentavam um processo iniciático, uma morte, seguida
de um renascimento ou regeneração em direção a realidades ou estados
superiores.
Kali e Shiva.
Como a Deusa, a figura da hieródula é profundamente ambivalente. No
rito convergem as dimensões do sagrado e o material, o alto e o baixo, o
espiritual e o instintivo, entendidos como facetas complementares. Mas, também
neste ritual, a dor e o perigo não estão ausentes. Não esqueça que a união
sexual com a sacerdotisa é a união com a Deusa. E, enquanto ela é uma figura
materna, ela também é uma amante extremamente severa e até monstruosa. Neste
sentido, a Deusa Mãe nos lembra a figura de Kali ou Durga, Deusa do hinduísmo e
parceira do deus Shiva, que é explicitamente representada como um monstro
sedento de sangue e cruel. Usando um colar de cabeças de homens e empunhando
uma arma em cada uma de suas muitas mãos, Kali dança sobre o corpo propenso de
Shiva, no meio do caos e da destruição. Mas Shiva, mais astuto que Adão e que
muitos outros homens, observou cuidadosamente e aprendeu que esta é apenas uma
fase ou faceta da Deusa e que é necessário - e, além disso, valioso - aprender
a lidar com isso. Assim, diz-se que o deus finge estar morto até que a fúria de
Kali seja apaziguada, ou de Shiva é dito que finge ser um bebê até que a
criminosa, a assassina da cabeça, se torne novamente a mãe generosa que se
dedica e prodigaliza inspiração e riqueza.
A Deusa suméria, como Kali, é composta de luz e sombra, uma mistura
de criatividade e destruição. Ela é ao mesmo tempo agradável e aterradora. Daí que
o abraço sexual de Ishtar/ Inanna, encarnada na hieródula, implicava a morte
ritual do homem. Mas esta morte sempre tinha um ganho.
Certamente, o encontro sexual com a Deusa lembra o louva-a-deus, um
inseto famoso pela posição adotada por suas enormes pernas dianteiras, dobradas
diante de sua cabeça como se estivesse fazendo uma oração quando, na realidade,
ele está prestes a caçar, e célebre também porque a fêmea devora e decapita o
macho na mesma posição no momento do acasalamento. Mas, como o poeta José
Watanabe (em seu poema intitulado, precisamente, "O Louva-a-Deus
orante") diante da concha sem vida na qual o corpo do macho é
transformado, não podemos negar a possibilidade de que sua última palavra tenha
sido de ação de graças.
Em busca de Lilith nos deixamos levar até os templos da Deusa Suméria-Babilônica,
à figura da hieródula e ao ritual propiciatório da fertilidade, que também é um
rito iniciático de morte e renascimento. Mas o que exatamente acontecia neste
ritual? Uma história nos oferece pistas. Se trata do relato da criação de um
homem, Enkidu, e sua metamorfose, auxiliado por uma hierodula, uma história de
origem suméria que faz parte da Epopeia de Gilgamesh, uma das mais antigas histórias
da humanidade.
A história nos conta que os habitantes da cidade de Uruk, cansados
de suportar a tirania de seu governante, Gilgamesh, pedem à Deusa Inanna que
lhes envie um vingador. Inanna concorda em ajudar e modelar um homem da terra,
a quem ela dá o nome de Enkidu (note que a Deusa é aqui a única encarregada de
dar vida ao homem, bem como trazê-lo ao mundo). Mas acontece que, assim que ele
é depositado na terra, Enkidu foge instintivamente com as gazelas e os animais
da estepe. Com seu corpo coberto de pelos, não há grande diferença entre ele e
o rebanho, e eles alegram seu coração, bebendo do bebedouro.
Enquanto isso, percebendo que seu paladino ainda não está pronto
para vir em sua ajuda, os habitantes de Uruk decidem chamar Shámhat, a hieródula,
para ir para a estepe e faça com o selvagem "seu ofício feminino". Aparecendo
diante do Enkidu, a hieródula deixa cair seu véu e revela seu sexo. A história
nos conta que, durante seis dias e sete noites, "ele desfrutou de sua
posse" e "ela não temia, ela gostava da masculinidade dele". Uma
vez ambos saciados, Enkidu tenta em vão voltar com as gazelas, mas, para seu
pesar, todas as feras da estepe se afastaram dele. Sem hesitar, ele tenta
persegui-las, mas seu corpo não responde como antes. Algo havia mudado. Confuso,
Enkidu se joga aos pés de Shamhat, que o recebe dizendo: “Você é lindo, Enkidu,
você parece um deus! Por que você tem que atravessar a estepe com feras?”
Era hora de Enkidu se despedir dos animais. Fica entendido que a
cerimônia de iniciação foi um coito, um parto e uma missa tudo ao mesmo tempo.
Até antes de conhecer a hieródula, Enkidu vivia a vida dos animais, um estado
selvagem de perfeita inconsciência, semelhante à vida paradisíaca e suave
conduzida por Adão e Eva no Éden até que, sendo tentados pela serpente, eles
abriram os olhos e começaram a discernir. Sem dúvida algo morreu quando eles
comeram a maçã, e morreu no preciso momento em que algo mais estava prestes a
nascer. Assim também, a Hieródula, a vigária da Deusa, é a encarregada de
retirar a vida da besta para que nasça um ser humano adequado, dotado de
consciência e autonomia. De Enkidu nos é dito que, após esta iniciação,
"ele amadureceu e alcançou um vasto conhecimento do mundo". Como
alguém que abandona o universo uterino, uma nova vida e um novo mundo haviam
começado para ele.
Este é um ancestral remoto - e não censurado - da história da Bela
e a Fera; uma metamorfose causada por relações emocionais e sexuais que servem
como iniciação ou rito de passagem para acessar uma dimensão propriamente
humana. E se olharmos com cuidado, notaremos que estamos também diante de uma
versão alternativa da história do pecado original e da queda, uma versão que
não requer um culpado nem nos mortifica com uma visão fatalista e trágica de
nossa condição humana. Uma versão que não condena a ambivalência feminina e na
qual o homem não é chamado a se apropriar do corpo da mulher, nem a mulher está
condenada a conter seus instintos e a deixar-se dominar.
Porque não esqueçamos que a hieródula também era a Deusa Inanna,
ela era Ishtar, ela era uma emanação da Deusa Mãe, que era Lilith e também a
Serpente. E é Eva, a mulher, que atende ao chamado da serpente e com ela vai a
humanidade inteira.
Visto desta forma, deixar-se tentar pela serpente é equivalente a
acessar uma revelação muito profunda, aquela que nos leva a abrir nossos olhos,
a superar estados instintivos e a acessar o mundo da consciência humana, ao
mundo das palavras e da razão, dos símbolos e da cultura. O Gênesis nos ensina que,
abrindo os olhos, Adão e Eva perceberam o contraditório e foram capazes de
discernir. Havia o bem e o mal, acima e abaixo, nu e vestido, preto e branco,
humano e animal, humano e divindade, vida e morte, homem e mulher, eu e você,
nós e eles. Tudo isso e muito mais é o que existe. Mas discernimento não
implica necessariamente em oposição e hierarquização. E, da mesma forma, este
último tipo de apropriação racional do mundo, à qual estamos tão acostumados,
não é necessariamente equivalente à compreensão.
Pelo contrário, acostuma-se a ouvir o que a serpente tem a dizer
nos ensina a olhar a realidade do mundo de frente. E o que vemos é um mundo mutável
e dinâmico que, como a serpente, emerge da casca morta de sua forma anterior,
em um devir que é a norma de vida. Um mundo que, como a Deusa, ainda pode ser
contemplada como aquela grande mãe que é ao mesmo tempo terrível e generosa ao
mesmo tempo, aquela que nos inicia, fazendo-nos entrar no fluxo da vida e
depois nos retira, aquela que traz fertilidade e criatividade e também corta cabeças.
No final, a serpente nos diz que viver em ambivalência e o devir da matéria não
é uma falha, que nossa perfeição como humanos consiste no fato de sermos
imperfeitos (ou seja, não completamente feitos ou acabados): somos eventos em
andamento, algo inacabado.
Se conseguimos chegar a este entendimento, é porque Eva,
felizmente, recusou-se a obedecer a Javé e prestou atenção à serpente. Ao fazer
isso, Eva se lembra que, antes de ser Eva, ela era Lilith. O que, por sua vez, nos
lembra a todos que a história da origem, a coisa que deve nos explicar e
justificar, pode sempre ser dito de outra forma. É sempre possível, e também
saudável, para experimentar formas melhores.
“Víboras,
putas, brujas: una historia de la demonización de la mujer desde Eva a la
Quintrala”, Roberto Suazo Gómez, ed. Planeta, 2018, pp.10-45.
Faça o download do livro completo em espanhol em
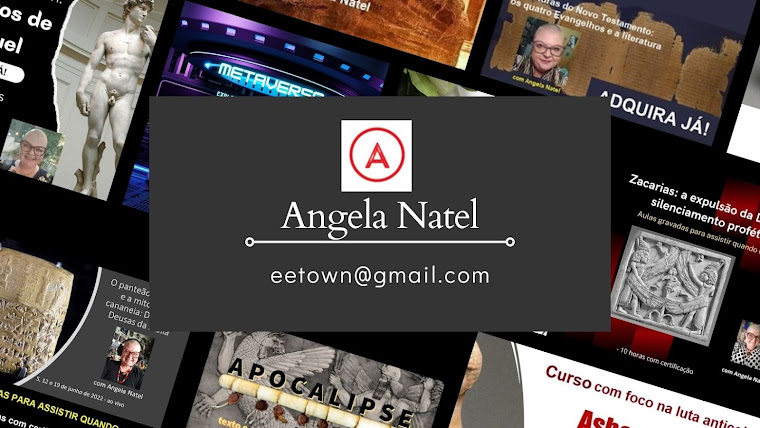











Nenhum comentário:
Postar um comentário